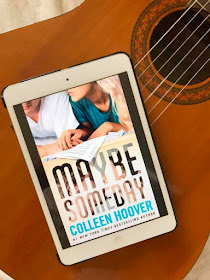Em 2003 durante a Guerra do Iraque e após a queda de Saddam Hussein, o Brasil, a ONU e de certa forma o mundo perderam Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ele foi o primeiro brasileiro a chegar ao alto escalão da ONU, onde ele trabalhou por 34 anos, até falecer num atentado terrorista em Bagdá. Até mesmo o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, afirmava que ele era "a pessoa certa para resolver qualquer problema", pois atuou em alguns dos principais conflitos das últimas décadas.
Depois de assistir ao trailer do filme Sérgio, da Netflix, do diretor Greg Baker, e pedaços do documentário de mesmo nome, também dele, achei que encontraria uma produção mais política ou mesmo autobiográfica. Fiquei realmente interessada em saber mais sobre o profissional e seu trabalho. Mas, no fim das contas, a produção focou principalmente no seu relacionamento com Carolina, com quem ficou durante seus últimos anos de vida.
Sérgio já começa com o protagonista, vivido por Wagner Moura, sendo Alto Comissário da ONU. Sabemos que ele é um homem poderoso, um gerenciador de conflitos que consegue o que quer e está tentando transformar o mundo num lugar melhor. E então o seguimos em suas duas últimas missões: em Timor Leste e no Iraque. O filme não tem uma ordem cronológica, então temos vislumbres desde o começo dos seus últimos momentos de vida e de como ele foi parar em Bagdá, mesmo contra sua vontade.
Vi umas críticas no IMDb que realmente sintetizaram o que eu senti assistindo: “Cobre importantes eventos de uma maneira muito preguiçosa”, “uma oportunidade perdida de trazer a conscientização ao trabalho de um homem tão importante”, “sabemos que sua relação foi importante, mas seu trabalho foi muito mais”. Além disso, o filme não mostrou facetas do documentário que mostram o seu lado pessoal, como o fato do relacionamento com os filhos, com as mulheres (era notoriamente um mulherengo) e sua paixão pelo Rio de Janeiro, a terra natal.
Teria sido muitíssimo mais interessante para o espectador ver mais das suas missões, das suas negociações tão incríveis que o fizeram até mesmo ser cotado para suceder a Kofi Annan como secretário-geral da ONU quando chegasse o momento. Acredito que seria uma forma melhor de honrar seu trabalho e o seu legado. O episódio da sua morte foi tão pesado que até mesmo abalou o papel da ONU como solucionadora de conflitos. Depois disso, sua reputação não foi mais exatamente a mesma, e isso é algo que o filme não fala.
Uma dos maiores acertos do filme são as atuações. Wagner Moura em todos os seus trabalhos dá tudo de si. E nesse caso não é diferente. O tom de voz, o olhar duro quando necessário, a autoridade na fala, ele traz tudo isso que era tão presente em Sérgio. Tem um quê de super-herói, de alguém que realmente faz a diferença. Mas sem esquecer o sorriso e o carisma, sempre tão marcantes no diplomata. E Moura tem bastante química com Ana de Armas, que interpreta Carolina. A relação deles é construída do início. Crível, ela é bonita, ainda que em excesso e lotada de clichês (o primeiro beijo na chuva, o pedido de desculpas numa sala iluminada por velas e origamis – que um funcionário do alto escalão da ONU nunca teria tempo de fazer -, as andanças de moto).
O roteiro é simples, fácil de acompanhar e mesmo quem não entende nada de política externa, diplomacia ou trabalho da ONU consegue entender. A fotografia é bem bonita e a direção soube fazer uso dos cenários tão diversos – Timor Leste, Rio de Janeiro, Bagdá e outros.
Sérgio, no fim das contas, é um bom filme, ainda que mais pareça um romance do que a biografia de um diplomata.
Recomendo.
Teca Machado